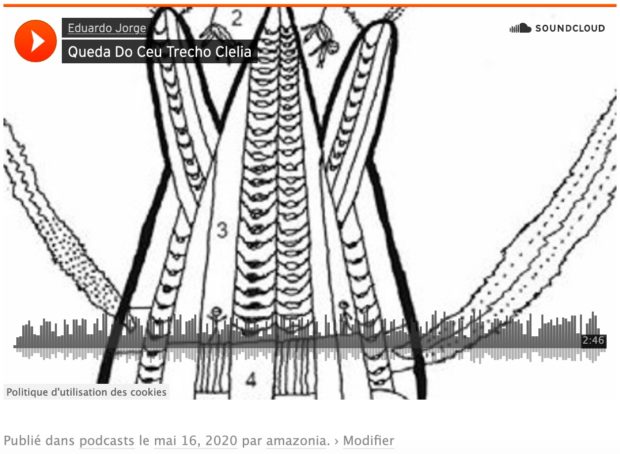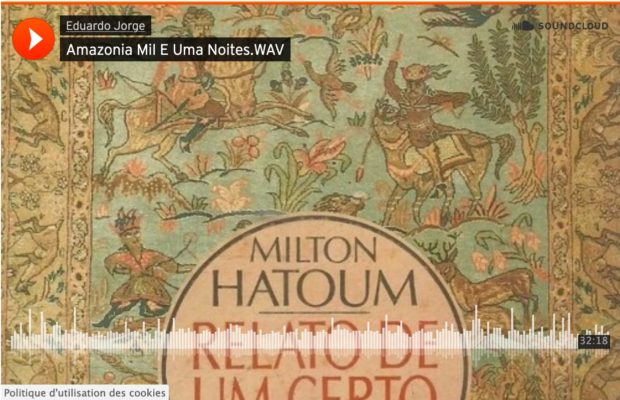Janelas: ao escrever essas linhas de conclusão de um seminário mais focado na leitura de A queda do céu, Bruce Albert retuita uma informação sobre a morte do segundo yanomami por coronavirus. O primeiro tinha sido um adolescente. O segundo, Flacido Yanomami tinha 68 anos e morreu em uma “região com 2051 indígenas, segundo o Censo da Sesai de 2019”. Ao longo do curso, estamos lidando com uma série de referências a textos literários, ensaios históricos e críticos, filmes, desenhos, fotografias e o presente não cessa de interferir de modo que nossa realidade mudou completamente. E fomos partilhando esta situação juntos, de modo que forma e conteúdo foram se mesclando enquanto íamos nos separando. Das aulas presenciais na sala D-31, do Romanisches Seminar, às quintas-feiras, às nossas telas e zonas privadas, fomos nos espalhando e nos confinando, cada um no seu espaço e seguimos de algum modo em uma perspectiva do comum, dividindo leituras, discutindo textos e buscando um sentido para o que estamos estudando: “Amazônia: imaginários da selva na literatura e nas artes.” Curso no qual A queda do céu é uma lente de leitura, pois através da sensibilidade inaugurada por esse livro, estabelecemos contatos com outros textos e imagens.
Bruno Latour: A relação é distinta daquela mencionada por Bruno Latour que em Nous n’avons jamais été modernes (1991), inicia com o termo “crise”. Latour folheia um jornal e comenta a diversidade de assuntos que escapam na grande parte das vezes do nosso conhecimento: medidas para a Antártica, especialistas em química da parte superior da atmosfera, grandes chefes e administradores da Atochem e Monsanto, são alguns dos assuntos na primeira página do livro. Como se posicionar no mundo diante de tais crises? Como se posicionar diante da floresta que queima na sua extensão territorial, nas páginas de jornal e que arde na nossa imaginação? Essas questões multiplicam desafios de leitura, aliás, exigem que nossa leitura seja política. Política não no sentido restrito e partidário no sentido que o termo transfere às instituições e poderes de decisão, mas no sentido das nossas escolhas do que lemos, das vozes às quais damos atenção à escuta. A humanidade vive uma crise que tem uma história da própria invenção constante que é a fabricação da vida coletiva. O que Bruno Latour chamou de fabricação das nossas coletividades, que é um modo de perceber como os cidadãos foram absorvidos no século XVIII, os operários no século XIX e atualmente o lugar dos não-humanos nas nossas vidas: sensibilidades vegetais e animais, ao lado de sensibilidades técnicas e científicas (p. 185-186). Nesse sentido, a hipótese que atravessou o curso, a saber, se A queda do céu pode inscrever-se como um marco para uma literatura pós-etnográfica se sustenta fragilmente na sensibilidade que o olhar etnográfico inseriu no mundo moderno: talvez por em dúvida a modernidade – isto é, o sentimento de aceleração do tempo, a separação entre vencedores e vencidos e a existência daqueles encerrados nos seus passados arcaicos e estáveis – seja uma das tarefas políticas para delimitarmos os limites do humano que lia o seu jornal tranquilamente e fazia o percurso casa-trabalho ao longo dos anos, dividindo dias úteis e fins de semana, férias e uma vida cercada por narrativas de consumação tão marcadas pela mitologia moderna (ver Roland Barthes e suas mitologias).
Fotografia: Miguel Rio Branco